Dissertações e teses sobre a cultura da periferia ganham espaço, criam polêmicas e passam a explorar o viés estético
Amanda Massuela, Helder Ferreira E Mariana Marinho
Amanda Massuela, Helder Ferreira E Mariana Marinho
“Mulher burra fica pobre / Mas eu vou te dizer / Se for inteligente, pode até enriquecer”. O trecho faz parte de “My pussy é o poder”, da funkeira carioca Valesca. No início deste ano, ela e outras companheiras de cena tornaram-se objeto de estudo de Mariana Gomes, 24 anos. Dos morros, o funk alcançou a academia. “Compreender questões relacionadas ao funk nos ajuda a entender ritmos da diáspora africana; o que consome e o que produz a favela carioca e as periferias do Brasil como um todo. Coloca-se também diretamente na luta contra o preconceito cultural, mostrando formas contra-hegemônicas de se produzir cultura”, afirma Mariana.
Em 2008, quando ainda cursava a graduação em Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense (UFF), ela começou a pesquisar possíveis conexões entre feminismo e funk carioca. Passou a frequentar os bailes da Rocinha, Santa Cruz e Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro. Seu interesse primário evoluiu para pesquisa de campo e, em março deste ano, concretizou-se na apresentação do projeto My pussy é o poder: A representação feminina através do funk no Rio de Janeiro: identidade, feminismo e indústria cultural.
Com ele, Mariana foi aprovada em segundo lugar no Mestrado em Cultura e Territorialidades da UFF, feito divulgado em tom de surpresa por grande parte da imprensa. Da bancada do SBT Brasil, noticiário noturno da emissora, a âncora Rachel Sheherazade comentou: “As universidades se popularizaram e, com elas, os temas das teses de mestrado [sic]. Num projeto intitulado My pussy é o poder, o funk carioca, que fere os meus ouvidos de morte, foi descrito como manifestação cultural. Pior é que ele é, pois se cultura é tudo o que o povo produz – do luxo ao lixo –, funk é tão cultura quanto bossa nova. Sinal dos tempos, não é?”.
A jornalista foi além, dizendo que as funkeiras estariam anos-luz aquém do feminismo, uma vez que, em suas letras, retratam as mulheres como objeto sexual. “O projeto se propõe a estudar tudo isso a fundo. Mas será que o assunto tem profundidade para tanto?”, questionou no ar. Conservadorismos à parte, é fato que a academia está se renovando. Uma simples busca na Plataforma Lattes, no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), mostra que, desde o ano 2000, o funk foi tema de 341 teses de doutorado, em universidades de todo o Brasil. Da mesma forma, o hip hop inspirou 745 estudos e o tecnobrega, 25 deles.
Para Micael Herschmann, autor do livro O funk e o hip hop invadem a cena (UFRJ, 2000), após a redemocratização do país, em 1985, os atores sociais oriundos das periferias ganharam espaço para ampliar sua voz no ambiente acadêmico. Junto a isso, ele acredita que a crescente influência desses gêneros sobre a classe média também pode ser considerado um fator importante para tal abertura. “A academia está mais maleável em relação a esses temas. O meu trabalho, assim como o do Hermano Vianna e outros que foram feitos em São Paulo sobre hip hop, abriu caminho para estudos sobre a cultura da periferia. Há uma agenda de pesquisa em que ela aparece – e é importante não apenas aparecer, mas não ser tratada sob uma perspectiva condenatória”, observa.
A antropóloga Alba Zaluar acredita que a academia enxerga fenômenos culturais como o funk e o hip hop como manifestações legítimas para o espaço que ocupam na produção cultural. “Isso não significa, porém, que elas estejam isentas da crítica cultural que pretende entendê-las dentro do processo mais amplo da globalização da cultura, da mimesis cultural”, diz.
Por sua vez, Heloisa Buarque de Hollanda, professora de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda vê certa resistência, principalmente da opinião pública, contra a abordagem dos artistas periféricos no ambiente acadêmico. “Tudo que ameaça quebrar com o paradigma é visto como ruim”, opina. “Mas não prestar atenção ao hip hop ou ao funk seria loucura; quando a academia faz isso, ela está perdendo espaço, não está fazendo seu trabalho”.
Dedicada ao estudo de expressões culturais preteridas pelo cânone desde meados dos anos 1970, quando escrevia sobre a poesia marginal de Francisco Alvim, Chacal, Roberto Piva, Ana Cristina Cesar e outros, a professora não demonstra mais muita surpresa com a sensação de déjà vu provocada pelas críticas. “Quando comecei com os poetas marginais, ouvia os mesmos argumentos que ouço hoje sobre a produção da periferia: é sempre aquele velho discurso do letrado e do não-letrado – quem não o é, não pode produzir literatura”, conta.
Visão dualista
Entre os muitos questionamentos sobre o conteúdo das letras das artistas femininas do funk, que comumente tratam de sexo de maneira direta e usam seus corpos como forma de empoderamento, Mariana Gomes afirma que o objetivo da sua dissertação é derrubar a visão dualista sobre machismo e feminismo. “Entender os jogos tão complexos que envolvem a produção musical no funk não é algo simples e requer tempo de pesquisa. Com relação à liberdade sexual, Valesca, por exemplo, contribui muito com a luta feminista”.
Segundo Mariana, é preciso fugir de duas premissas equivocadas: a de que as funkeiras são feministas sem cartilha e a de que incentivam o machismo e a violência contra a mulher, pois se objetificam. Das mulatas do samba às dançarinas do hip hop, a sexualidade da mulher negra, acredita Mariana, é sempre vista de forma subalternizada – motivo pelo qual apenas cantoras elitizadas e carregadas de uma estéticas pop são socialmente aceitas.
Alba Zaluar destaca que o termo feminismo é polissêmico, dotado de tantos significados quanto outros termos que indicam predisposições, preferências e posturas políticas. “Se agora as mulheres podem fazer e cantar músicas do gênero funk, isso é uma conquista delas, que antes só dançavam no baile. É uma conquista feminista”, afirma. No entanto, se analisado o conteúdo das letras que acompanham a batida, Zaluar acredita que as mulheres são, de fato, tratadas como objeto sexual, algo longe de ser parte do projeto feminista hegemônico.
Em 2011, a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro lançou o primeiro edital dedicado ao suporte financeiro das produções artística do gênero, o Criação Artística no Funk. Para Micael Herschmann, iniciativas como essa mostram que talvez haja um reconhecimento por parte do Estado de que tais manifestações culturais são legítimas. É nesse panorama que a academia desenvolve o papel fundamental de sensibilizar autoridades, a crítica e, indiretamente, o público. “Não acredito que a academia interfira na maneira como o público usufrui a obra. Mas pode ser que ela sensibilize a crítica de alguma forma que, por sua vez, tem um papel importante junto aos formadores de opinião – e eles sim podem afetar a opinião do público”.
Intelectuais da periferia
Além de My pussy é o poder, de Mariana Gomes, outros trabalhos que discutem as manifestações culturais vistas como periféricas tiveram repercussão recentemente. É o caso da tese de doutorado A periferia pede passagem: trajetória social e intelectual de Mano Brown, defendida por Rogério de Souza Silva em 2012 na Unicamp. A partir da análise da trajetória de Mano Brown, líder do grupo de rap Racionais MC’s, Silva discute em sua tese a importância do hip hop na transformação da vida de milhares de jovens das periferias das grandes cidades brasileiras.
O sociólogo, filho de pai porteiro e mãe diarista, passou a infância e parte da adolescência numa Cohab de Itapevi, na Grande São Paulo. Foi nessa época, quando já escutava rap e já havia lido a obra Cidade de Deus, de Paulo Lins, que o discurso politizado e as organizações dos militantes do hip hop chamaram sua atenção. “Eles não tinham o linguajar mais ou menos sofisticado dos seguidores do rock nacional ou dos punks. No entanto, apresentavam forte sentimento de indignação e revolta contra as mazelas sofridas pelos moradores das periferias brasileiras, especialmente contra a violência policial”.
Na graduação em Ciências Sociais, cursada da Unesp de Araraquara, Silva racionalizou essa experiência inicial e passou a estudar a leitura negativa que, de acordo com ele, parte da grande mídia faz sobre o hip hop, especialmente o rap. Após estudar os clássicos da área e fixar a ideia de que as teorias e conceitos aprendidos deveriam ser aplicados na análise da realidade atual, ele se aprofundou no estudo das periferias urbanas brasileiras. No mestrado em Sociologia pela Unesp, dissertou sobre os autores, contribuições e polêmicas da literatura marginal. Esse mesmo trabalho foi publicado em 2011 com o título de Cultura e violência: autores, polêmicas e contribuições da literatura marginal(Editora Annablume).
Para o sociólogo, mais do que um movimento cultural, o hip hop se apresenta como um movimento social capaz de evitar o envolvimento de muitos jovens com o mundo do crime. “Os críticos que acusam o hip hop de fazer apologia ao crime precisam entender que as sociedades modernas são muito mais complexas do que a leitura dual de branco ou preto. Nas periferias brasileiras, existe uma mancha cinzenta que amplia a fronteira entre certo e errado; moral e imoral; lícito e ilícito; e essas se tornam de difícil compreensão”, expõe.
Além de tratar as complexas relações entre violência e hip hop, Silva vai além, destacando que a dinâmica da carreira acadêmica atual – “que ocupa os professores universitários com reuniões infindáveis, preenchimento de formulários, inúmeras orientações de mestrado e doutorado” – provoca, entre outras coisas, consequências negativas para a atuação pública do intelectual: há um vácuo criado na cena pública a partir dos anos 1990 que faz com que surjam novos organizadores da cultura, os intelectuais periféricos.
São personagens que, de acordo com Silva, ganharam relevância e estabeleceram diálogo com a academia e com a mídia sem terem, necessariamente, passado pela universidade ou pelo ensino básico. É o caso de Mano Brown, Thaíde, Paulo Lins, Ferréz, MV Bill, Sabotage e Rappin’ Hood. “Na realidade, a tese procura ir a contrapelo: se Chico Buarque, Caetano Veloso, Augusto Boal, Zé Celso Martinez Corrêa, podem ser intitulados intelectuais, por que Mano Brown não pode?”.

Viés estético
Segundo Heloísa Buarque de Hollanda, é importante que estudos acadêmicos também passem a abordar as manifestações culturais da periferia pelo viés estético. “A grande maioria dos trabalhos ainda tem caráter externo, isto é, interpretam pelo viés sociológico ou antropológico, tratando a periferia como uma tribo exótica ou um mundo à parte”, analisa. “Mas, estamos vivendo um momento histórico, no qual a periferia é o centro da atenções, e isto começa a mudar”.
No rastro desta tendência de mudança surge a coleção Tramas Urbanas. Com curadoria assinada por Hollanda e publicada pela Aeroplano Editora, também dirigida por ela, o conjunto de livros tem como principal objetivo expressar e divulgar o trabalho de jovens pensadores, artistas e lideranças que falem a partir da, ou identificados com, favela e periferia. Diferente das teses acadêmicas, parte majoritária dos textos publicados pela coleção tem autoria dos próprios agentes culturais oriundos da periferia, como em CooPerifa – Antropofagia periférica, de Sérgio Vaz. “A importância, e mesmo a urgência, de sua divulgação será dar visibilidade ao surgimento da reflexão de teóricos, críticos, historiadores e pesquisadores que, pela primeira vez na nossa história, interpelam, a partir de um ponto de vista local, alguns consensos questionáveis das elites intelectuais”, escreve a curadora na apresentação da iniciativa em sua página pessoal na internet (heloisabuarquedehollanda.com.br).
O mesmo problema de unilateralidade do olhar da academia foi sentido pelo historiador Antônio Eleilson Leite, coordenador cultural da ONG paulistana Ação Educativa, e acabou resultando na criação do seminário Estéticas da Periferia, cuja primeira edição, em 2011, se propôs a investigar o modo como a periferia era abordada pela universidade. “Fizemos um levantamento das teses publicadas até aquele ano e descobrimos que apenas 5% tinham enfoque na produção artística, o restante abordava a questão social ou tinha um viés mais antropológico”, relata. “A cultura da periferia é sempre muito reconhecida pela sua função social”.
“A produção artística periférica não está exposta à academia como arte; essa ausência de estudos é provocada por puro desconhecimento, é uma cultura que ainda está presa em seu locus”, opina Eleilson. Para ele, o grande problema advém do fato de a universidade se manter afastada do contemporâneo – “o rap levou 30 anos para receber uma atenção da academia” –, mas também é provocado pelo comportamento de seus representantes. “Os próprios artistas da periferia não valorizam tanto o seu trabalho artístico e boa parte do movimento cultural lida mal com a crítica. Há problemas em todas as partes”, avalia.
Há, no entanto, exceções: “o Criolo, por exemplo, é um artista que transita bem entre a periferia e o centro, sem deixar de ser periférico”, afirma o historiador. Segundo ele, esta “perifericidade” do autor de “Não existe amor em SP” se mantém em seu universo de criação poética e até mesmo em sua postura. “Essa autoproclamação periférica é política, ela sinaliza uma oposição à outra situação”.
Para Eleilson, o rap atual tenta trilhar os mesmo passos de Criolo e Emicida. “O movimento está num momento de se repensar; está seguindo uma proposta diferente, mais arejada, aparentemente menos combativa e politizada que o rap dos anos 1990, mas ainda assim bastante crítica”. Ele acredita que, assim como o fez a literatura periférica, a música também está buscando conseguir espaço para transitar entre a periferia e o centro. “Isso é muito interessante para a periferia, pois são esses pontos de conexão que criam uma intersecção que a tira de seu isolamento”, afirma ele, que vê em São Paulo grande chance da arte das quebradas deixar de ser interpretada apenas pelo seu contexto social. “Não conheço periferia que se imponha tanto quanto a paulistana”.
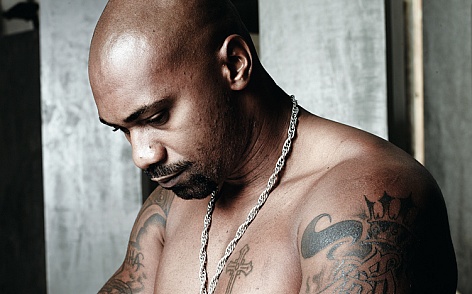
Nenhum comentário:
Postar um comentário